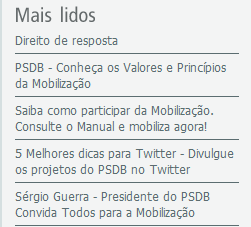(Xue Song, Time, 2007 -
Mixed -media on canvas, 150 x 120 cm)
Encontrei um texto no
Esquerdopata que eu não conhecia. É muito bom. Trata-se de uma obra-prima de Millor Fernandes, intitulada...
*
O pensamento de FHC analisado por Millôr Fernandes
LIÇÃO PRIMEIRA
De uma coisa ninguém podia me acusar — de ter perdido meu tempo lendo FhC (superlativo de PhD). Achava meu tempo melhor aproveitado lendo o Almanaque da Saúde da Mulher. Mas quando o homem se tornou vosso Presidente, achei que devia ler o Mein Kampf (Minha Luta, em tradução literal) dele, quando lutava bravamente, no Chile, em sua Mercedes (“A mais linda Mercedes azul que vi na minha vida”, segundo o companheiro Weffort, na tevê, quando ainda não sabia que ia ser Ministro), e nós ficávamos aqui, numa boa, papeando descontraidamente com a amável rapaziada do Dops-DOI-CODI.
Quando, afinal, arranjei o tal Opus Magno — Dependência e Desenvolvimento na América Latina — tive que dar a mão à palmatória. O livro é muito melhor do que eu esperava. De deixar o imortal Sir Ney morrer de inveja. Sem qualquerpartipri, e sem poder supervalorizar a obra, transcrevo um trecho, apanhado no mais absoluto acaso, para que os leitores babem por si:
“É evidente que a explicação técnica das estruturas de dominação, no caso dos países latino-americanos, implica estabelecer conexões que se dão entre os determinantes internos e externos, mas essas vinculações, em que qualquer hipótese, não devem ser entendidas em termos de uma relação “casual-analítica”, nem muito menos em termos de uma determinação mecânica e imediata do interno pelo externo. Precisamente o conceito de dependência, que mais adiante será examinado, pretende outorgar significado a uma série de fatos e situações que aparecem conjuntamente em um momento dado e busca-se estabelecer, por seu intermédio, as relações que tornam inteligíveis as situações empíricas em função do modo de conexão entre os componentes estruturais internos e externos. Mas o externo, nessa perspectiva, expressa-se também como um modo particular de relação entre grupos e classes sociais de âmbito das nações subdesenvolvidas. É precisamente por isso que tem validez centrar a análise de dependência em sua manifestação interna, posto que o conceito de dependência utiliza-se como um tipo específico de “causal-significante’ — implicações determinadas por um modo de relação historicamente dado e não como conceito meramente “mecânico-causal”, que enfatiza a determinação externa, anterior, que posteriormente produziria ‘conseqüências internas’.”
Concurso – E-mail:
Qualquer leitor que conseguir sintetizar, em duas ou três linhas (210 toques), o que o ociólogo preferido por 9 entre 10 estrelas da ociologia da Sorbonne quis dizer com isso, ganhará um exemplar do outro clássico, já comentado na primeira parte desta obra: Brejal dos Guajas — de José Sarney.
LIÇÃO SEGUNDA
Como sei que todos os leitores ficaram flabbergasted (não sabem o que quer dizer? Dumbfounded, pô!) com a Lição primeira sobre Dependência e Desenvolvimento da América Latina, boto aqui outro trecho — também escolhidoabsolutamente ao acaso — do Opus Magno de gênio da “profilática hermenêutica consubstancial da infra-estrutura casuística”, perdão, pegou-me o estilo. Se não acreditam que o trecho foi escolhido ao acaso, leiam o livro todo. Vão ver o que é bom!
Estrutura e Processo: Determinações Recíprocas
“Para a análise global do desenvolvimento não é suficiente, entretanto, agregar ao conhecimento das condicionantes estruturais a compreensão dos ‘fatores sociais’, entendidos estes como novas variáveis de tipo estrutural. Para adquirir significação, tal análise requer um duplo esforço de redefinição de perspectivas: por um lado, considerar em sua totalidade as ‘condições históricas particulares’ — econômicas e sociais — subjacentes aos processos de desenvolvimento no plano nacional e no plano externo; por outro, compreender, nas situações estruturais dadas, os objetivos e interesses que dão sentido, orientam ou animam o conflito entre os grupos e classes e os movimentos sociais que ‘põem em marcha’ nas sociedades em desenvolvimento. Requer-se, portanto, e isso é fundamental, uma perspectiva que, ao realçar as mencionadas condições concretas — que são de caráter estrutural — e ao destacar os móveis dos movimentos sociais — objetivos, valores, ideologias —, analise aquelas e estes em suas relações e determinações recíprocas. (…) Isso supõe que a análise ultrapasse a abordagem que se pode chamar de enfoque estrutural, reintegrando-a em uma interpretação feita em termos de ‘processo histórico’ (1). Tal interpretação não significa aceitar o ponto de vista ingênuo, que assinala a importância da seqüência temporal para a explicação científica — origem e desenvolvimento de cada situação social — mas que o devir histórico só se explica por categorias que atribuam significação aos fatos e que, em conseqüência, sejam historicamente referidas.
(1) Ver, especialmente, W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifest, Cambridge, Cambridge University Press, 1962; Wilbert Moore, Economy and Society, Nova York, Doubleday Co., 1955; Kerr, Dunlop e outros, Industrialism and Industrial Man, Londres, Heinemann, 1962.”
Comentário do Millôr, intimidado:
A todo momento, conhecendo nossa precária capacitação para entender o objetivo e desenvolvimento do seu, de qualquer forma, inalcançável saber, o professor FhC faz uma nota de pata de página. Só uma objeçãozinha, professor. Comprei o seu livro para que o senhor me explicasse sociologia. Se não entendo o que diz, em português tão cristalino, como me remete a esses livros todos? Em inglês! Que o senhor não informa onde estão, como encontrar. E outra coisa, professor, paguei uma nota preta pelo seu tratado, sou um estudante pobre, não tenho mais dinheiro. Além do que, confesso com vergonha, não sei inglês. Olha, não vá se ofender, me dá até a impressão, sem qualquer malícia, que o senhor imita um velho amigo meu, padre que servia na Paróquia de Vigário-Geral, no Rio. Sábio, ele achava inútil tentar explicar melhor os altos desígnios de Deus pra plebe ignara do pequeno burgo e ensinava usando parábolas, epístolas, salmos e encíclicas. E me dizia: “Millôr, meu filho, em Roma, eu como os romanos. Sendo vigário em Vigário-Geral, tenho que ensinar com vigarice”.
LIÇÃO TERCEIRA
Há vezes, e não são poucas, em que FhC atinge níveis insuperáveis. Vejam, pra terminar esta pequena explanação, este pequeno trecho ainda escolhido ao acaso. Eu sei, eu sei — os defensores de FhC, a máfia de beca, dirão que o acaso está contra ele. Mas leiam:
“É oportuno assinalar aqui que a influência dos livros como o de Talcot Parsons, The Social System, Glencoe, The Free Press, 1951, ou o de Roberto K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, The Free press, 1949, desempenharam um papel decisivo na formulação desse tipo de análise do desenvolvimento. Em outros autores enfatizaram-se mais os aspectos psicossociais da passagem do tradicionalismo para o modernismo, como em Everett Hagen, On the Theory of Social Change, Homewood, Dorsey Press, 1962, e David MacClelland, The Achieving Society, Princeton, Van Nostrand, 1961. Por outro lado, Daniel Lemer, em The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, Glencoe, The Free Press, 1958, formulou em termos mais gerais, isto é, não especificamente orientados para o problema do desenvolvimento, o enfoque do tradicionalismo e do modernismo como análise dos processos de mudança social”.
Amigos, não é genial? Vou até repetir pra vocês gozarem (no bom sentido) melhor: “formulou (em termos mais gerais, isto é, não especificamente orientados para o problema do desenvolvimento) o enfoque (do tradicionalismo e do modernismo) como análise (dos processos de mudança social)”.
Formulou o enfoque como análise!
É demais! É demais! E sei que o vosso sábio governando, nosso FhC, espécie de Sarney barroco-rococó, poderia ir ainda mais longe.
Poderia analisar a fórmula como enfoque.
Ou enfocar a análise como fórmula.
É evidente que só não o fez em respeito à simplicidade de estilo.
Tópico avulso sobre imodéstia e pequenos disparates do eremita preferido dos Mamonas Assassinas.
Vaidade todos vocês têm, não é mesmo? Mas há vaidades doentias, como as das pessoas capazes de acordar às três da manhã para falar dois minutos num programa de tevê visto por exatamente mais ou menos ninguém. Há vaidades patológicas, como as de Madonas e Reis do Roque, só possíveis em sociedades que criaram multidões patológicas.
Mas há vaidades indescritíveis. Vaidade em estado puro, sem retoque nem disfarce, tão vaidade que o vaidoso nem percebe que tem, pois tudo que infla sua vaidade é para ele coisa absolutamente natural. Quem é supremamente vaidoso, se acha sempre supremamente modesto. Esse ser existe materializado em FhC (superlativo de PhD). Um umbigo delirante.
O que me impressiona é que esse homem, que escreve mal — se aquilo é escrever bem o meu poodle é bicicleta — e fala pessimamente — seu falar é absolutamente vazio, as frases se contradizem entre si, quando uma frase não se contradiz nela mesma, é considerado o maior sociólogo brasileiro.
Nunca vi nada que ele fizesse (Dependência e Desenvolvimento na América Latina, livro que o elevou à glória, é apenas um Brejal dos Guajas, mais acadêmico) e dissesse que não fosse tolice primária. “Também tenho um pé na cozinha”, “(os brasileiros) são todos caipiras”, “(os aposentados) são uns vagabundos”, “(o Congresso) precisa de uma assepsia”, “Ser rico é muito chato”, “Todos os trabalhadores deviam fazer checape”, “Não vou transformar isso (a moratória de Itamar) num fato político”. “Isso (a violência, chamada de Poder Paralelo) é uma anomia”. E por aí vai. Pra não lembrar o vergonhoso passado, quando sentou na cadeira da prefeitura de São Paulo, antes de ser derrotado por Jânio Quadros, segundo ele “um fantasma que não mete mais medo a ninguém”.
Eleito prefeito, no dia seguinte Jânio Quadros desinfetou a cadeira com uma bomba de Flit.
E, sempre que aproxima mais o país do abismo no qual, segundo a retórica política, o Brasil vive, esse FhC (superlativo de PhD) corre à televisão e deita a fala do trono, com a convicção de que, mais do que nunca, foi ele, the king of the black sweetmeat made of coconuts (o rei da cocada preta), quem conduziu o Brasil à salvação definitiva e à glória eterna. E que todos querem ouvi-lo mais uma vez no Hosana e na Aleluia. Haja!
Millôr Fernandes